Quando Clarice Fortunato perdeu o pai misteriosamente, aos 5 anos, sua mãe colocou os outros filhos para adoção e foi viver com ela nas ruas. Sem ter o que comer, vagaram até a mãe ficar cega e, depois, morrer em seus braços. Fugindo do cunhado assediador, ela conseguiu um emprego de doméstica, mas nunca desistiu de estudar. Aos 25, enfim terminou o colégio e entrou para a faculdade de letras. Sempre dividindo a vida acadêmica com o trabalho em casa de família, formou-se depois de sete anos e já emendou o mestrado. Em seguida, conseguiu uma bolsa de doutorado na Inglaterra e transformou em livro a tese em que conta sua história.
“Nasci em uma fazenda muito simples, em Terra Rica, no Paraná. Não tínhamos eletricidade, a água era de tanque e o banheiro, um vaso coletivo de madeira instalado num quartinho fora da casa. Meu pai trabalhava para o dono da terra, como os outros moradores de lá. Nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, veio para o Sul fugido com minha mãe. Quando eu tinha 5 anos, ele foi até a cidade e não voltou mais. Como era normal ficar lá até uma semana, não nos preocupamos. Só percebemos que tinha acontecido algo quando encontramos suas roupas e o relógio que ele nunca tirava escondidos perto de um rio. Muito apegada a ele, passei a ter um sonho recorrente em que ele saía de um poço desativado que havia perto de casa e me dava uma flor. Duas, talvez três noites seguidas, levantei no meio da noite e corri em direção ao poço acreditando que o encontraria.
Impressionada, minha mãe foi até a delegacia e fez a denúncia. Os policiais foram lá e conversaram com os fazendeiros. Na saída, nos avisaram que não começariam as buscas naquele dia porque não haviam levado o material necessário. No outro dia, o patrão mandou aterrar o tanque. Minha mãe foi pedir explicação e fomos expulsos da fazenda.
Meu irmão mais velho já tinha saído de casa, mas ainda éramos 13, além de minha mãe, vivendo ali. Sem ter o que fazer, ela foi então doando os filhos. Três das mulheres se juntaram com homens que mal conheciam, os outros foram deixados pelo caminho. Na casa de um padrinho, de um amigo, de qualquer um que pudesse criá-los. Só sobrei eu a seu lado, e nos mudamos para a região urbana de Terra Rica, onde ela imaginava arrumar um emprego e um lugar para viver. Nos hospedamos na casa de uma irmã minha que já estava na cidade e, em poucos dias, minha mãe começou a namorar. Dias depois, fomos morar juntos, os três. Mas, como ele bebia muito e não trabalhava e ela também não conseguia emprego porque não tinha profissão, em um mês fomos despejados.
Começou então minha vida na rua. Tinha medo de tudo. De ser estuprada, roubada, de acontecer algo com minha mãe. Passava as noites acordada. De dia, andava de uma cidade para outra. Comia o que me davam e bebia água das poças. Quando passávamos por algum rio, aproveitávamos para tomar banho e lavar roupa. Muitas vezes, ficava com a vista preta e desmaiava de fome e sede.
Em uma tarde, encontramos uma chácara e resolvemos ficar por lá. Meu padrasto dizia que iria sair para procurar emprego, mas não fazia nada além de beber. Cansada de reclamar, minha mãe um dia brigou feio com ele e levou um soco no olho. Com a confusão, fomos expulsos novamente. A caminhada daquele dia foi diferente. Ao longo da estrada, a vista dela foi ficando opaca, opaca e, poucos dias depois, ela estava cega. A vida de cidade em cidade não mudou. Só que, a partir daquele momento, eu tinha que puxá-la pelo braço durante nossas andanças.
“Ao longo da estrada, a vista da minha mãe foi ficando opaca e, dias depois, ela estava cega”
Estávamos em Nova Londrina quando uma assistente social nos procurou avisando que havia vagado uma casa da prefeitura e seria destinada a nós. Essa mesma mulher tinha conseguido também um médico para a minha mãe em Curitiba, e ela teria que ficar lá por tempo indeterminado para tentar reverter o problema da visão. Antes de viajar, recebemos em casa uma família que nos mandava alimentos e roupas. Achava que tinha ido se despedir, mas escutei a conversa que revelava o motivo da visita: minha adoção. Entrei em desespero. Aos soluços, agarrei minha mãe e disse que não ia. Eles me puxaram, tentaram me soltar, mas não conseguiram. Aí desistiram de me levar.
Fomos então viver em um albergue em Curitiba para minha mãe fazer o tratamento, e meu padrasto ficou em Londrina. Parede com parede a um hospício, o lugar em que ficamos era horroroso. Escutava gritos a noite inteira, vivia enfestada de piolho. Até que, uma vez, cansadas de esperar pelo atendimento no hospital, que estava atrasado, saímos para andar um pouco e fomos longe o suficiente para não achar o caminho de volta. Só retornamos ao albergue quando nos encontraram, dormindo na rua, um mês depois.
Ficamos pouco tempo em Curitiba. O tratamento da minha mãe não estava andando e ela, com saudade do meu padrasto, decidiu regressar a Londrina. De volta ao que chamávamos de casa, dormíamos os três na mesma cama. Não foram poucas as vezes em que acordei com os dois fazendo sexo ao meu lado e que ele passou a mão em mim enquanto dormia, achando ser minha mãe. Mas preferia focar no que interessava, estava prestes a realizar meu grande sonho: entrar para a escola.
Antes, no entanto, precisava me registrar. O dia do meu aniversário minha mãe lembrava: 6 de março. O ano, a gente calculou mais ou menos. Assim, aos 10 anos, tirei minha certidão de nascimento e me matriculei no colégio. Minha vizinha, que já ia à escola, me doou um uniforme que não lhe servia mais e eu peguei pedaços de caderno, livros e uma escova de dente no lixão para começar a rotina de estudante. Estava morrendo de felicidade.
Mas minha alegria durou pouco. Minha irmã ficou sabendo que nossa mãe havia sido aposentada por invalidez e passado a receber um dinheirinho mensal, foi nos buscar e eu parei de frequentar o colégio. Pouco depois, meu irmão foi nos visitar e, assustado com a miséria em que vivíamos, levou todo mundo para Pinheiral, em Santa Catarina, onde morava. Acontece que a nova cidade era muito fria e a gente não tinha roupa suficiente para se aquecer. Minha mãe então ficou entrevada e começou a ter várias doenças decorrentes dessa paralisação, da cegueira, da desnutrição. Eu dava banho, comida, levava ela no colo para cima e para baixo. Até o dia em que, depois de ter amanhecido esperançosa, ela estava almoçando e, na segunda colherada, tombou morta no meu colo.
Passei dois dias em choque, sem saber o que faria da vida. Mas, sem tempo para lamentações e louca para sair daquele lugar, em que minha irmã tentava me vender para homens e meu cunhado me assediava, comecei a trabalhar como doméstica. Quando finalmente encontrei uma boa família e me adaptei ao emprego, pedi que eles me adotassem para eu não precisar mais viver com a minha irmã. Eles concordaram em assinar um termo de responsabilidade, mas explicaram que eu não seria filha deles. Não tinha direito a nada e deveria continuar trabalhando. E pararam de me pagar. Eu cozinhava, lavava, passava, cuidava dos três filhos deles (o maior tinha dois ou três anos menos que eu) e não recebia nada.
Até que comecei a sentir vergonha de estudar de dia porque era muito mais velha do que os outros alunos. Já tinha 19 anos e ainda estava terminando o ensino fundamental. Consegui então um emprego em uma sapataria para pagar minhas despesas e fui morar com uma amiga. Como não tinha boas roupas nem amigos com quem conversar, minha rotina na escola era da sala de aula para a biblioteca. Até que, em um dia de prova, um menino que sentava atrás de mim me chamou para pedir cola. Só escutei o grito da professora: ‘Essa negra não vai virar para a frente, não?’. Fui até a direção soluçando, e me disseram que não podiam fazer nada. Ali eu não ficava mais, mas para continuar a estudar tinha que sair da cidade. De novo.
Fiquei sabendo então de uma vaga em Florianópolis, onde poderia voltar para a escola. A dona da casa me pagava um salário mínimo, eu limpava tudo, passava roupa e cozinhava algumas vezes. Ela trabalhava na universidade federal e me incentivava muito a estudar. Trazia livros de vestibular, conversava comigo… Me apresentou o universo da academia. Faltava um semestre para eu terminar o 3º ano quando, sem tempo de me preparar para o vestibular, fiquei sabendo que minha antiga escola havia afastado a tal professora racista por problemas de saúde. Pedi demissão e voltei para lá. Já tinha 25 anos na época. Instalada na casa de uma amiga, finalmente podia estudar a tarde inteira e passei um mês me preparando para o vestibular. Prestei para as universidades estadual e federal, biblioteconomia e letras/português, e passei. Nas duas.
O início da faculdade não foi fácil. Estudava com gente que havia feito cursinho, que era sustentada pelos pais, enquanto eu tinha que trabalhar como doméstica até as 17h e correr para chegar à aula, que começava às 18h30. Estudava até as 22h30 e no outro dia tinha que acordar às 6h para colocar o café da manhã da família na mesa. Ficava exausta. Não tinha tempo de ler os textos nem dinheiro para encontrar os colegas na cantina, na hora do intervalo. Minha vida social era zero, e ninguém da turma sabia o que eu fazia.
Já no fim do curso, conheci uma família que pagava muito bem para eu trabalhar como babá de sexta à tarde até segunda de manhã. Só aí consegui estudar direito. Depois de formada, sete anos após começar a faculdade, emendei um mestrado em literatura e virei assistente pessoal do meu patrão, que era médico. Pagava contas, fazia compras, tinha cartão e acesso às senhas de banco. Fiquei dez anos prestando serviços ali. Eles eram ótimos comigo, mas aquele ainda não era o trabalho que eu queria.
Tirei esforços de onde não tinha para tentar a bolsa no doutorado, e consegui. Estava com 39 anos e, pela primeira vez, me sentia liberta. Recebia para fazer o que gostava, não precisava pedir favor a ninguém. E me permiti sonhar um pouco mais alto. Queria fazer parte do curso no exterior e comecei a me movimentar para isso. Muito rapidamente fiz as disciplinas que precisava para me candidatar à vaga, prestei os exames e lá estava eu, de malas prontas para viver em Exeter, cidade medieval linda, no sudoeste da Inglaterra. O ano era 2015.
Morava em um lugar lindo, tinha amigos, estava exatamente onde gostaria de estar. Mas, assustada com a situação política do Brasil, me vi imersa em discussões inflamadas nas redes sociais e achei que deveria me recolher. Àquele silêncio juntou-se o das férias, da escola vazia, dos colegas em viagens. Pensei então no privilégio de estar lá, enquanto as pessoas aqui estavam sofrendo com a crise, e na relevância do meu trabalho. O que vou retornar pra sociedade de importante? Eu, uma mulher negra, eu que passei pelas ruas, eu que fui violentada de várias maneiras, que fui esquecida ou infernizada pelo estado, vou fazer mais do mesmo?
Era uma tarde muito fria quando vozes me mandando escrever minha história começaram a me atormentar. Não havia o que eu fizesse, elas martelavam minha cabeça. Atormentada, me agasalhei e fui para a rua. Lá fora, correndo como louca, não ouvia nada. O frio me venceu e eu voltei para casa. Elas começaram de novo, achei que estava enlouquecendo. Só pararam quando acatei o pedido. Em dois dias, já tinha tomado todas as providências para mudar o tema da minha tese: em vez de avaliar Gabriela Cravo e Canela, história de Jorge Amado, contaria a minha em forma de romance. A tese virou a obra Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros (editora Pallas, 120 págs.), e eu, literalmente, a autora do meu próprio destino.”
Por CLARICE FORTUNATO EM DEPOIMENTO A ROBERTA MALTA

















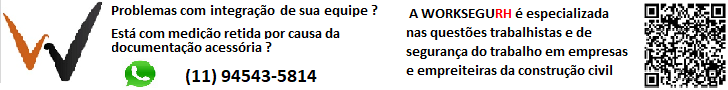



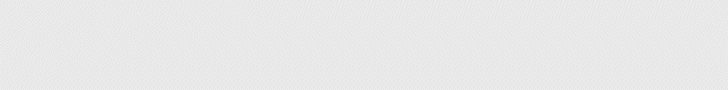

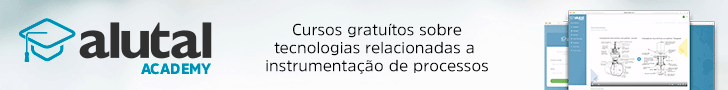

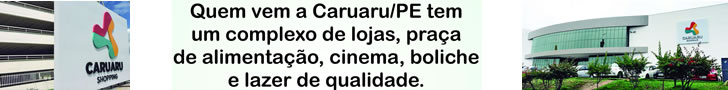


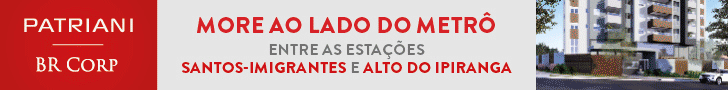
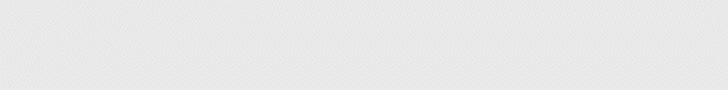














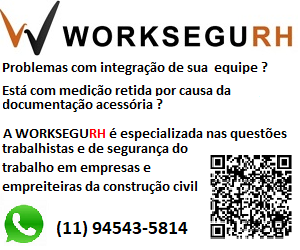



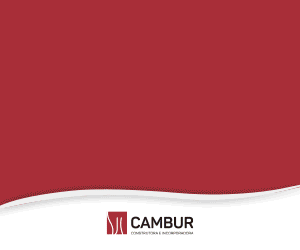










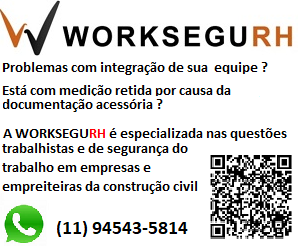

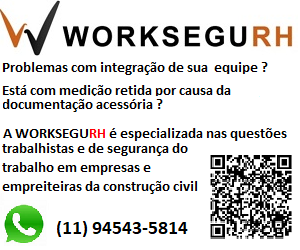















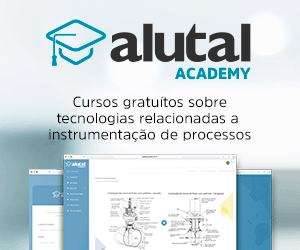

Adicionar comentário